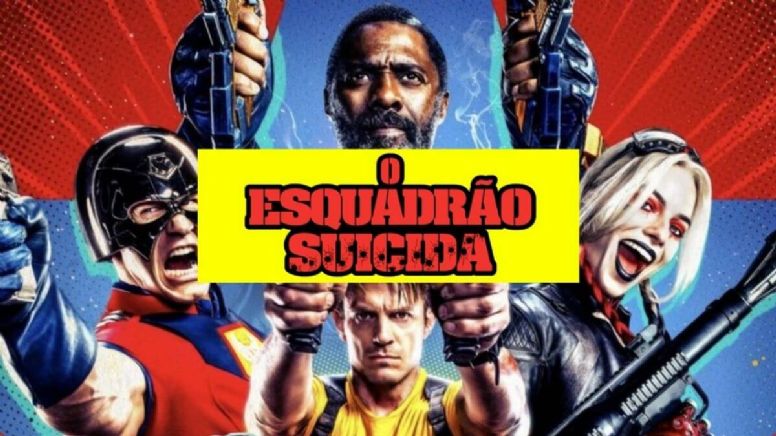Esquadrão Suicida Versus Velozes e Furiosos: Ficção-Científica ou Fantasia? – Por Filippo Pitanga
É interessante como alguns dos maiores blockbusters atuais bebem da fonte de hibridismos de gêneros narrativos mistos para contar histórias surreais, que viram crônicas sociais da distopia que vivemos atualmente
É duro viver, sem dúvida. Há prazeres, com certeza, mas os dissabores também andam grandes. Quando pensaríamos como humanidade enfrentar uma pandemia mundial? Quando o Brasil iria prever que estaria encarando um desgoverno ultraconservador e negligente, que atrasou a compra das vacinas por lucro e que abandonaria instituições culturais à própria sorte, vide a Cinemateca que foi recentemente legada de forma criminosa às chamas, e controlando as massas a guiar a população lobotomizada na obscuridade, tipo gado?
Pois os filmes caminham de mãos dadas pra dialogar com os tempos que vivemos. Diante da loucura atual, nem ficamos incrédulos com uma estrela do mar gigante como vilã que veio do espaço e domina mentalmente aqueles com que entra em contato... Ou mesmo se torna crível ver um grande ímã controlar carros como pedaços de metal que se aglutinam feito moléculas ou núcleos familiares... E nem estamos falando dos robôs mutantes da franquia “Transformers”.
Eis que dois longas-metragens outrora pertencentes a outros gêneros estariam agora em cartaz se enfrentando no circuito comercial de salas abertas, mesmo diante da hesitação de público pelo risco de contaminação ainda alto com a variante delta, mas que apelam para o espetáculo na telona para tentar fazer valer a diferença entre ver estes filmes em casa ou no escurinho do cinema.
Curiosamente, estas obras estão mais interligadas do que parecem. Não só por terem sido feitas durante o período de pandemia, tentando manter os protocolos de segurança em períodos de risco elevado, no melhor intuito de tentar trazer ao público um pouco de esperança e possibilidades de sonhar de novo... Mas também pelo fato de terem mudado seus diretores para apostas mais seguras, de nomes que teriam em seu currículo outros trabalhos de confiança com o público, tudo pra mirar na segurança que talvez as pessoas deixaram de sentir na vida real.
Sem falar que existem vários artistas comungados entre esses dois filmes que parecem compartilhar uma aura de carisma nas bagagens que carregam a cada trabalho, como John Cena, ex-lutador de WWE – presente tanto no novo “O Esquadrão Suicida”, equipe de vilões que se tornam anti-heróis nas adaptações dos quadrinhos da Detective Comics (DC), quanto no mais recente episódio da franquia “Velozes e Furiosos 9”... Caminho muito parecido com o de outro ex-lutador, o querido e magnético Dwayne The Rock Johnson, também já parte da família “Velozes e Furiosos”, mesmo ausente do nono capítulo e atualmente no spin off derivado “Hobbs & Shaw”, bem como agora entre os anti-heróis da DC, como no vindouro “Adão Negro” (personagem do universo de “Shazam!”).
Vamos começar destrinchando melhor a nova inserção no universo de “O Esquadrão Suicida” (2021), pois muito se esperava da repaginada após o desastre colossal da adaptação de 2016, dirigido por David Ayer (que, assim como Zack Snyder, reclamou ter sido prejudicado pelas diretrizes do estúdio que tolheram sua liberdade criativa..., e já estaria pedindo por uma versão expandida como recentemente foi feito com o malfadado “Liga da Justiça”, relançado com orçamento de milhões para alcançar a tal visão de seu diretor).
Mas o fracasso do filme original não foi só por causa dos estúdios, mesmo que tenha saído com um Oscar de maquiagem, nada merecido, só por lobby do mercado (o verdadeiro merecedor era “Star Trek: Sem Fronteiras” de Justin Lin, 2016). Eis que Ayer estava de mãos atadas a partir da primeira página em branco, pois desde o princípio a produção queria emular o sucesso de “Guardiões da Galáxia” (2014) dos estúdios rivais, do Universo cinematográfico Marvel. Isso porque a contraparte nos quadrinhos também trazia personagens de caráter duvidoso e com um pezinho na vilania, tendo de trabalhar juntos com humor e picardia para salvar inadvertidamente o próprio universo mal-agradecido.
Eis que a tentativa de copiar e colar do outro exemplar deu muito errado, e tratava os principais êxitos como maneirismos, tipo as frases de efeito que faziam piadinha no meio da ação e a trilha sonora descolada de símbolos pop (no filme da Marvel fazia sentido as ‘mixtapes’ de música retrô para alguém que foi abduzido pro espaço onde o tempo não fazia mais sentido, mas no filme da DC isso foi distorcido e usado como mero instrumento de estilo sem sentido, como metalinguagem barata – vide colocar “You don’t own me” para Arlequina e “Bohemian Rhapsody” do Queen a cantarolar “Mama mia let me go” para a personagem Amanda Waller).
A empreitada atual nem sequer desejou ostentar o número 2 no título, para se desprender totalmente, mesmo que, ironicamente, adote o mesmo título (só mudou o artigo definido “O” na frente da nova versão), e acabou contratando o diretor da franquia “Guardiões da Galáxia”, James Gunn, o que parece meio contraditório: chamar o diretor ‘raiz’ para fazer o remake de uma versão Nutella. A história, inclusive, finge que o anterior nem aconteceu, mesmo que não negue alguns dados e traga de volta artistas que deram certo em alguns papéis, como a revelação total Margot Robbie na pele de Arlequina, a oscarizada Viola Davis como Amanda Waller e Joel Kinnaman como Coronel Rick Flag.
No demais, tudo novo. E desta vez os maneirismos como exercício de estilo foram suavizados de forma mais orgânica, com músicas se encaixando no lugar certo e personagens mais trabalhados para além de apenas piadas de efeito. O tema familiar tão típico dos trabalhos de James Gunn foi respeitado aqui, especialmente com a dupla Idris Elba como Sanguinário (que era pra ser o Pistoleiro de Will Smith, cortado por conflitos de agenda) e a insuspeita artista portuguesa Daniela Melchior como Caça-Ratos 2, talvez a personagem que teve melhor aproveitamento inesperado na trama, quem diria!
O rendimento da atriz foi tão bom que sobrou até para emprestar credibilidade a outras personagens, como o Tubarão-rei, ou Nanaue (voz de Sylvester Stallone, também parte da franquia “Guardiões da Galáxia”), que poderia ser o substituto de animal feroz com algum traço de humanidade revelador como o Crocodilo no filme anterior, mas que aqui ascende de forma um pouco mais original graças à relação com a parceira de cena. Sobra até para participação especial do ator-diretor Taika Waititi, também presente nos filmes da Marvel tanto atrás quanto na frente das câmeras, e que aqui serve de pai da personagem de Melchior e rende um dos melhores momentos catárticos do filme, reapreciando nossa relação com ratos (até estes bem utilizados a contracenar com o protagonista na pele de Elba).
Muita coisa dá certo neste filme, e não por redescobrir a roda, mas simplesmente por colocar certas coisas no lugar e hora certos. Neste sentido, o seu sucesso é bem mais esperto do que virtuoso, e só repete o que já havia dado certo na sombra dos trabalhos de James Gunn – podendo-se até afirmar que o resultado fica aquém do esperado, não por falta de qualidade, mas apenas por não trazer nenhuma revolução tão prometida. Afinal, estamos falando de uma equipe de personagens altamente descartáveis, cuja premissa é a de que podem morrer a qualquer momento de forma mais surpreendente ou até engraçada do que o elenco inteiro das séries “Lost”, “The 100” e “Game of Thrones” juntos. E, neste sentido, o filme deixa bastante a desejar.
A estrutura do filme é superclássica, dando um prelúdio como abertura já direto na ação, razoavelmente anárquico como a premissa prometia, mas com vários passos atrás ao voltar um pouco no tempo e desenvolver melhor a outra parte de personagens, de modo a ficar piegas em muito pouco tempo. Sem falar que ao invés de cruzar a anarquia com o apropriado desenvolvimento de personagens, o que consegue é só fazer dois filmes em um, com a primeira proposta mais descartável como a essência da HQ, e a segunda mais palpável, como um roteiro de verdade, para fazer valer os salários dos artistas que os representam.
Nada contra, pois há momentos impagáveis, como uma sequência de execução de soldados revolucionários que vira algo completamente diferente quando você descobre que os alvos foram equivocados, e mataram as pessoas erradas. Isso funciona também devido ao enorme carisma de Idris Elba contracenando com John Cena, pois eles funcionam com um estranho homoerotismo de dois caras disputando quem é ‘maior’ em cena – sem trocadilhos, por favor. Mas no fundo, no fundo, são ex-vilões que não são tão maus assim, nem possuem motivações tão fúteis assim, e só foram mal compreendidos pelo tempo em que vivem – uma pena, pois todos parecem farinha do mesmo saco, no mau sentido, o mais raso, onde não se diferenciam em motivações ou nuances (só um deles, mas não vamos dar spoiler aqui).

Aliás, parabéns por terem conseguido mudar completamente a equipe, mas sem desperdiçar o talento de Margot Robbie como Harley Quinn, a Arlequina, praticamente a personagem mais popular de todos os filmes de quadrinhos desde que Hugh Jackman despontou como Wolverine nos X-Men. Sua coprotagonista é bem utilizada em tramas paralelas e com motivações próprias, até mesmo dando mais camadas a ex-fundamentações mais antigas de sua personagem que já não haviam dado certo antes, e que aqui são reaproveitadas e emancipadas para longe dos erros pregressos, com a relação tóxica dela com o Coringa.
O curioso é que ela acaba servindo como elo de ligação e pivô do conflito ideológico do filme, que se passa na ilha fictícia de Corto Maltese, algo como se fosse uma espécie de mistura de Cuba e Colômbia, dividida entre governos militares influenciados e bancados pelos Estados Unidos da América e forças populares de libertação social – inclusive com estética provocadora de guerrilha dissidente no meio do mato e em bares sujos onde convivem criminosos e milicianos ao mesmo tempo.
E, por incrível que pareça, a personagem mais vendida como produto atual na DC acaba sendo o símbolo anti-americanista e anticapitalista por excelência, devido à sua anarquia e total insubordinação a qualquer tipo de controle. Harley é esse elemento disruptivo mais interessante entre o Golpe Militar da Ditadura instituída e a milícia capitaneada pela personagem de nossa atriz brasileira Alice Braga (também já participante da Marvel em “Os Novos Mutantes”, 2020). Aliás, é muito interessante a diversidade de nacionalidades tipo uma Torre de Babel poliglota, que oferece tensões intrigantes ao tema político do pano de fundo.
Talvez por isso o filme acabe às vezes tendo um aproveitamento acima da média, mesmo que não mergulhe a fundo em sua maior crítica ao capitalismo que suas próprias personagens representariam como produto – vide a abstração total da denúncia inicial ao americanismo exacerbado, como herança do governo Trump, que acaba abraçando o vilão Starro, uma estrela do mar gigante que veio do espaço e que representa o lado mais sci-fi de um filme originalmente de fantasia.
O fato de acrescentarem laboratórios e cientistas loucos ajuda de fato a dar um ar de ficção especulativa ao roteiro, de modo a ir além da ação e dos uniformes absurdos de personagens super poderosas para calcar em absurdos bastante contemporâneos e até verídicos da distopia que costumamos enfrentar na vida real hoje em dia. Nada mais parece impossível. E torna ainda mais pungente a alfinetada ácida na manipulação global feita por países capitalistas mais abastados do hemisfério norte, ainda que abandone isso pra escanteio quando diz que a resposta vem do espaço (mesmo que isso também aparente ser mais uma característica sideral advinda da franquia “Guardiões da Galáxia” de James Gunn, para além de outros artistas emprestados, como Michael Rooker e Sean Gunn, respectivamente, aqui, como Savant e Weasel).
Todavia, por mais inusitado também, “O Esquadrão Suicida” não foi o único exemplar cinematográfico a entrar na corrida espacial, talvez até mesmo porque a Terra esteja pequena demais para tanta catástrofe, e os próprios filmes expandiram seus campos de atuação de modo a visitar novos horizontes. E, quem diria, após tantos exemplares de “Velozes e Furiosos”, quiçá a franquia atualmente mais longeva e bem-sucedida da sétima arte, ainda houve espaço pra se reinventar... Se já havíamos assistido aos carros na terra, no mar e até no ar, agora temos veículos fora de órbita, desafiando a gravidade e dirigindo entre foguetes e satélites... Mas funciona?
Curiosamente, se estamos falando da reciclagem realizada por James Gunn num intercâmbio de mão dupla, alguém do passado da franquia de carros mais famosa da atualidade também foi chamado de volta, Justin Lin, responsável pela renovação desde o episódio 4, 5 e, o melhor de todos, o 6... Sem falar que ele também é o cineasta responsável pelo já supracitado “Star Trek: Sem Fronteiras”, ou seja, não sendo estranho a filmes intergalácticos e com peripécias alienígenas, onde o sci-fi extravasa a fantasia.
Não que a representatividade do diretor anterior, F. Gary Gray, tenha negligenciado uma boa marca no exemplar pregresso, o oitavo da série (2017), até em expandir o significado de família tão caro aos predecessores quando falamos de ser o número 8, um algoritmo que também quer dizer infinito. O realizador especializado em cultura do hip hop com vários videoclipes no currículo, bem como com longas-metragens neste sentido como o ótimo “Straight Outta Compton” (2015), além de filmes de máfia que misturam ação e comédia, como “Uma Saída de Mestre” (2003) e “Be Cool – O Outro Nome do Jogo” (2005), conseguiu expandir o universo consangüíneo que orbita em torno do protagonista de Vin Diesel, Dominic Dom Toretto.

Numa dilatação do significado de gueto, e de como aqueles que cresceram juntos nos bairros de periferia desde os primeiros filmes agora abarcam uma verdadeira pangeia associativa, que perpassa por descendências mis, da italiana à latina, chegaram enfim até o nosso humilde país, o Brasil, tangenciado em “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio”, quando a franquia se tornou internacional em viagens pelo mundo... E a personagem carioca interpretada pela atriz espanhola Elsa Pataky (Elena Neves) voltou à saga apenas para acabar revelando ter tido um filho de Dom, nomeado em homenagem ao saudoso personagem original de Paul Walker, Brian (lembrando que o ator morreu na vida real, mas sua persona fictícia foi mantida viva na série em tributo a Walker, e se tornou tio do pequeno xará Brian, ora filho de Dom).
Ou seja, existe mais desdobramento familiar aqui do que novela mexicana, o que testou a lealdade do elenco na sequência anterior, quando a nova vilã interpretada pela oscarizada Charlize Theron (Cipher) usou o filho de Toretto para chantageá-lo a fazer o que ela quisesse, inclusive agir contra os seus próprios amigos, voltando a incidir na linha tênue entre bandidos e justiceiros em que transitam as personagens da série.
No mais recente exemplar, vemos agora outro membro da linhagem perdida ser revelado: um irmão desgarrado de Dominic, na pele de John Cena (Jakob Toretto), e que vai botar à prova mais uma vez o significado de redenção dos adoráveis fora-da-lei que a cada edição aumentam a lista de participações especiais – inclusive de quem já morreu e volta dos mortos! A trama é tão rocambolesca e intrincada em formato de caracol que faz jus à velocidade do título, pois parece torcer as regras da ficção tão furiosamente quanto. Não podemos nem mais chamar de filme de ação, nem de fantasia, pois são tão surreais que parecem ter abraçado o verdadeiro sentido hollywoodiano de um blockbuster: a nos dar um espetáculo inebriante, em escapismo vertiginoso e regado à adrenalina pura.
Justin Lin parece que entendeu isso, ajudando a consolidar a saga como outrora já representou o nome James Bond para outras gerações. O fiapo de história, na verdade, serve para viajar pelo mundo em países e culturas exóticas, com máquinas envenenadas e mortais, de modo a sempre haver um plano de dominação impossível, fadado a esmorecer ante o poder redentor da família com o coração no lugar certo. Pode parecer piegas, mas como filme, como cinema em seu estado mais genuíno, não engana o espectador no que tem a oferecer. As mentiras da sétima arte são verdadeiras na telona contanto que caibam em 24 quadros por segundo. E a magia da montagem dá conta do resto.
Quando um plano de perseguição aceita conscientemente que um ímã pode atrair todos os metais da pista na direção dos carros, e até tanque de guerra aparece no meio disso, disputando corrida com uma nave de caça, tudo vale entre os cortes e ruídos do extracampo. Nós acreditamos nos seres humanos pilotando esses carangos maravilhosos, e não nas leis da física que podem ser torcidas e estão ali para serem desacreditadas pela velocidade da luz do cinema.
Talvez seja isso que os filmes de 007 tenham perdido na era da credibilidade e do realismo do novo cinema de ação, que abandonou o exército de um homem só da década de oitenta... Perdeu o sentido de montanha russa e parque de diversões completamente inacreditáveis, que trocam a trama e truques narrativos pelo dispositivo imagético de cena. Vemos situações cada vez mais cabulosas que criam uma teatralidade do impossível, usando as pistas de corrida como palco para novas interpretações cênicas.
A única característica de James Bond que pode vir a fazer mais falta a “Velozes e Furiosos” talvez seja justamente o quesito ‘vilões’... Isso porque, como o mote principal de todos os exemplares é a redenção, e ex-antagonistas acabam sendo abarcados como novos aliados, aqui não faria muito sentido criar uma miríade de asseclas e capangas para cada herói e heroína combater – mesmo que Charlize Theron esteja sendo trabalhada como uma rival à altura da família, com seus significados algorítmicos de rede, onde robôs e vírus se infiltram em sistemas como fac-símiles que jamais poderiam substituir o ser humano. É bem interessante isto advir de uma inimiga mulher, autossuficiente e autônoma, que é dona do próprio nariz, mesmo agora em que ela disputa com outros pelo pódio da maldade... De certa maneira, é até admirável.
A intenção do filme é muito mais a de criar circunstâncias, como se fossem armadilhas a partir do perigo maior e das barreiras a serem transpostas, tipo uma pista de obstáculos, do que necessariamente pelos sacos de pancada que estarão ali para apanhar. Aliás, as vicissitudes de cada personagem são usadas até a última gota para emoldurar os caminhos trilhados: da sorte de Roman (Tyrese Gibson) à sororidade de Letty (Michelle Rodriguez) e Mia (Jordana Brewster), às artes marciais do núcleo asiático (onde até orbe de energia há, numa espiritualidade mais oriental que ocidental). E mesmo o fato de Ramsey (Nathalie Emmanuel) não saber dirigir acaba gerando uma das seqüências mais impagáveis de humor com ação de toda a franquia (isto porque as mulheres vêm sendo cada vez mais aproveitadas com protagonismo em cena, não só na ação, mas como norteadoras da própria história, tomando iniciativa e avançando a trama, e não relegando tudo apenas para a testosterona).
Vale ressaltar também que os desafios ficaram maiores em escala e em complexidade, com subtramas no passado, onde contamos com novos intérpretes para as versões mais jovens de alguns dos nomes do elenco, bem como com desdobramentos da memória e das culpas a serem purgadas no presente, tridimensionalizando bastante o quadro geral.
Todavia, o mais interessante mesmo acaba sendo o potencial de metalinguagem da saga, em autorreferências e certo estado de consciência de que a série é um só grande filme de ficção. O fato de algumas personagens principais sobreviverem a todo tipo de sorte nas obras prévias, bem como de poderem morrer e ressuscitar de formas escalafobética faz com que alguns deles desta vez se questionem sobre esta capacidade dentro do próprio roteiro. Foi uma jogada bem esperta colocar a própria incredulidade enunciada dentro da cena, de modo a que dialoguem sobre até onde iria sua invencibilidade – quase tomando a caneta e reescrevendo o roteiro por si mesmos.
Isto valoriza bastante o significado familiar trazido ao longo de cada continuação, e faz com que a linguagem do filme evolua junto com os temas, não obstante qual seja o vilão ou o novo golpe mundial a ser dado. Se no filme anterior tivemos Vin Diesel cooptado como antagonista por chantagem da personagem de Charlize, e, para representar uma frota de carros do exército de um homem só o sistema de computadores da vilã reproduzia uma espécie de horda de zumbis não pilotados, que eram controlados à distância, e que lutavam até contra um submarino nuclear, agora veremos isso em outro patamar. O já referido uso do ímã vai atrair todos os veículos de metal a aglutinar pelas estradas, de modo a demonstrar que família é o real significado de união que faz a força. Só a verdadeira atração dos seus próximos através dos afetos é que dão vida a estas máquinas pesadas e suas histórias bastante humanas, senão seriam apenas sucata.

É curioso pensar que se há algum tipo de dramaturgia que anda evoluindo cada vez mais os brios e emoções humanas seja ironicamente esta saga automobilística que, agora, até chegou ao espaço, dando mais uma camada de simbolismos, inclusive interseccionais, pois são as personagens negras que alcançam voos mais altos e desafiam a fronteira do homem e do espaço. Bastante significativo para personagens que começaram no gueto como metáforas fora-da-lei e reformadas, e que agora ganham o mundo como agentes secretos em espionagem industrial e antissistema, pois eles não pertencem a nenhuma empresa ou nação, e são, sim, uma entidade à parte chamada família, neste ou em qualquer sistema solar.
Vale mencionar que, neste sentido, de pequenas instituições intimistas que se sobrepõem à distopia das grandes instituições distorcidas na contemporaneidade, para ficção-científica alguma botar defeito, indicamos também no lazer de suas casas a mostra de filmes sci-fi do VI Cine Jardim, rolando até o dia 28 de agosto, e cujos curtas-metragens e longas-metragens em competição estão sendo exibidos de modo gratuito pelo site do Festival e pela plataforma Cardume. Confiram debates como com os realizadores de filmes supervanguardistas que botam até “Velozes e Furiosos” no chinelo, como “Caranguejo Rei”, de Enock Carvalho e Matheus Farias, “Cadeia Alimentar”, de Raphael Medeiros, “Ex-Humanos”, de Mariana Porto, “Nimbus”, de Marcos Buccini, e “Epirenov”, de Alejandro Ariel Martin. Confira debate aqui.
*Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião da Revista Fórum.